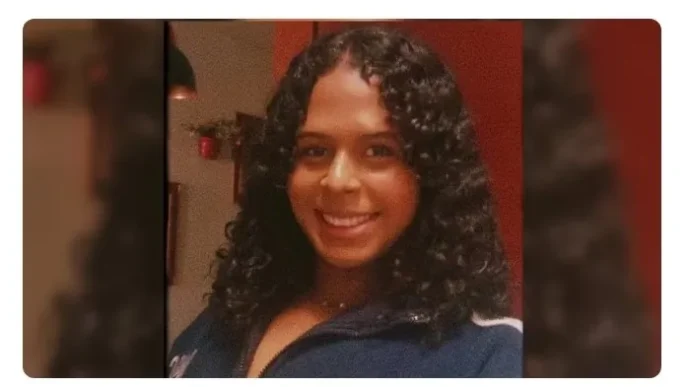Como historiador, há mais de sete anos pesquiso as memórias da Pequena África, referência da cultura dos escravizados africanos que desembarcaram no Rio de Janeiro entre os séculos 17 e 19, que se espalha por bairros e ruas da zona central e portuária da cidade.
Minha experiência com a Pequena África carioca começou já na juventude, com a identificação dos incômodos causados pelo tradicional viés eurocêntrico do ensino de História realizado na maioria das escolas de ensino fundamental e médio brasileiras nos anos 70, 80 e 90.
Nos livros e aulas das escolas do final do século 20, a escravização sempre foi naturalizada. Tratada como parte inevitável e integrante do processo histórico de desenvolvimento global. Já os africanos escravizados, tratados ora como mão de obra barata, ora como mercadoria bruta, num processo de desenvolvimento econômico que não considerava soberanias, identidades ou culturas.
Neste contexto, não veio para o Brasil apenas uma África. Na verdade, vieram várias. Diversas, plurais, múltiplas. Com sociedades bem diferentes entre si nos seus modos, costumes, hábitos, religiões, cabelos e cor da pele. Várias Áfricas que, com suas enormes contribuições culturais e linguísticas, ajudaram a construir as Américas, a reconstruir a Europa do pós-guerra e a formar a identidade da sociedade brasileira contemporânea.
A Pequena África e sua história escravagista
Na Zona Portuária do Rio de Janeiro, bairros vizinhos como a Saúde, a Gamboa e o Santo Cristo fazem parte de um grande complexo de memórias que, ao lado do Centro e da Praça 11, um dia abrigaram o maior complexo escravagista das Américas. Talvez do mundo. Há quem diga que o Rio de Janeiro foi o maior entreposto de escravos da humanidade..
Entre os séculos 16 e 19, o Brasil foi destino de pelo menos 40% de todos os africanos que chegaram como cativos nas Américas. Destes, cerca de 60% entraram pelos portos do Rio de Janeiro. Ou seja, quase um quarto de todos os africanos escravizados e enviados aos três continentes neste período. E o Cais do Valongo, localizado onde hoje é o bairro da Gamboa, era de longe o mais movimentado.
Ao recontar essa trajetória caminhando pelas ruas da Pequena África, estimulamos um reencontro entre turistas estrangeiros, brasileiros de outros estados e até mesmo cariocas com um aspecto capital e até hoje pouco debatido da nossa história: a mecânica de escravização de negros africanos para trabalhos forçados no Brasil.
Por muito tempo, a entrada de grande parte desse contingente de cativos no Brasil se dava pelos portos cariocas. O que levou à formação de dois complexos escravagistas altamente lucrativos: um na Praça 15 e outro na região do Cais do Valongo.
A entrada dos escravizados no país por si só já era uma operação complexa e burocrática, típica da cultura cartorial portuguesa da época: após desembarcarem, os africanos primeiro passavam pelos trâmites de Alfândega, para só depois serem expostos para venda no Mercado de Escravizados. Os muitos que chegavam doentes iam para as dependências do Lazareto, e os mortos para o Cemitério de Pretos Novos, que hoje também é um marco de visitação e ensino de história na Pequena África carioca.
Circuito histórico da herança africana no Rio de Janeiro
Todo esse conhecimento atual a respeito dos procedimentos de chegada dos escravizados ao Rio só foi possível em razão da descoberta ao acaso de dois sítios arqueológicos: o Cemitério de Pretos Novos, localizado sob o chào de uma casa na Gamboa, em 1996, e o próprio Cais do Valongo, achado em 2011 durante as obras de preparação do Rio para os Jogos Olímpicos de 2016.
A simples visualização de um cais sabidamente destinado a receber escravizados é um convite à reflexões sobre violência, desrespeito, estereótipos, preconceitos e barbárie. Durante o Circuito de Herança Africana que realizo semanalmente desde 2017, costumo levar de três a quatro horas para tentar explicar as motivaçÕes do projeto econômico representado pelo trabalho secular de escravizados no Brasil, que tornou-se altamente lucrativo não só para a corte imperial portuguesa, mas empresários para brasileiros também.
Concordo muito com o fotógrafo e historiador Milton Guran, que diz que não houve um esquecimento da história afro-diaspórica no Brasil, e sim um negligenciamento. A sociedade brasileira tem plena consciência do papel do negro e do indígena na construção e manutenção dos alicerces socioculturais, políticos e econômicos do país. Mesmo assim, optou por invisibilizá-la.
O Holocausto negro
Neste trabalho de recuperação da importância histórica do Cais do Valongo e da Pequena África do Rio de Janeiro, procuramos incansavelmente desconstruir estereótipos e estigmas arraigados na sociedade brasileira relacionados ao papel dos escravizados na construção do Brasil. Um processo que deixou muitas feridas difíceis de curar, e um legado nefasto de racismo velado e intolerância religiosa, herdados em parte pelos séculos de sistema escravista.
Não é à toa que o Cais do Valongo é considerado um Sítio Arqueológico de Memória Sensível, e desde 2017 é Patrimônio Mundial da Humanidade, atestado pela Unesco.
Hoje, o que acontecia diária e naturalmente em locais como o Cais do Valongo é definido pela ONU como o Holocausto Negro. Uma tragédia humana sem precedentes na história do mundo. Assim como o extermínio de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial foi um projeto financiado pelo estado alemão, o Cais do Valongo foi uma obra pública realizada a pedido do Príncipe Regente, e executada pelo Intendente da época, com dinheiro público.
Ou seja, se a historiografia tinha alguma dúvida sobre o papel da Estado Brasileiro na escravidão, a simples existência do Cais do Valongo demonstra que a corte portuguesa era sócia da escravidão.
Flavio Henrique Cardoso, Doutorando em História Comparada, Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
This article is republished from The Conversation under a Creative Commons license. Read the original article.